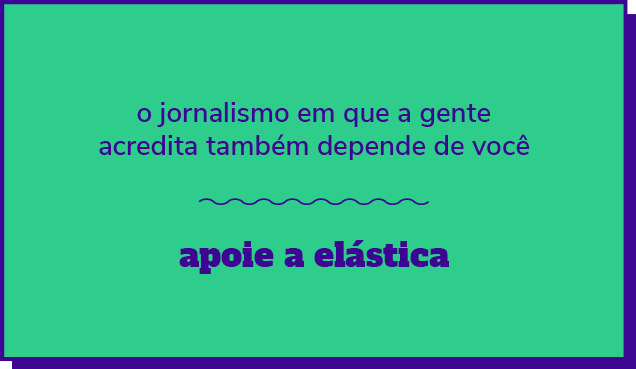idar com prazos curtos, acumular funções, ultrapassar oito horas de tarefas por dia e não ter tempo de descanso parece até ser a rotina comum de qualquer trabalhador. Isso porque era digital, as cobranças geralmente ultrapassam o limite do expediente e estão sempre conosco – basta desbloquear o celular que se tem um acesso fácil ao e-mail e mensagens. No entanto, a prática recorrente pode ser perigosa e acarretar o aparecimento do burnout.
A tradução livre do termo, “queimar-se de dentro para fora”, diz muito sobre essa doença que acomete 33 milhões (32%) de brasileiros, segundo uma pesquisa da International Stress Management Association (Isma-BR). Em um ranking de oito países, nós ocupamos o 2º lugar em nível de estresse, ficando atrás somente do Japão, com 70% da população atingida.
O descobrimento da síndrome foi feito pelo psicanalista alemão Herbert Freudenberger, em 1974, após identificar em si mesmo o esgotamento profissional. Na época, ele trabalhava 12 horas por dia e começou a perceber alterações de humor, esgotamento e até sintomas físicos. Quando observou que alguns de seus colegas passavam pelo mesmo, fez uma análise clínica e realizou o diagnóstico até então, inédito.
No Brasil, o Ministério da Saúde incluiu o burnout na lista de doenças relacionadas ao trabalho em 1999. Por ser um fenômeno global, a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2019, reconheceu a condição como “uma síndrome ocupacional resultante do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso”. Porém, a partir de janeiro deste ano, o órgão classificou a condição como doença ocupacional. Na prática, isso significa que agora estão previstos os mesmos direitos trabalhistas e previdenciários assegurados no caso das demais patologias relacionadas ao emprego.
“Há quatro grandes variáveis que levam o trabalhador a ter esse sofrimento: carga excessiva, contato constante com pessoas, pressão excessiva e mudanças permanentes no trabalho”, explica Cloves Amorim, professor do curso de psicologia da PUC-PR.