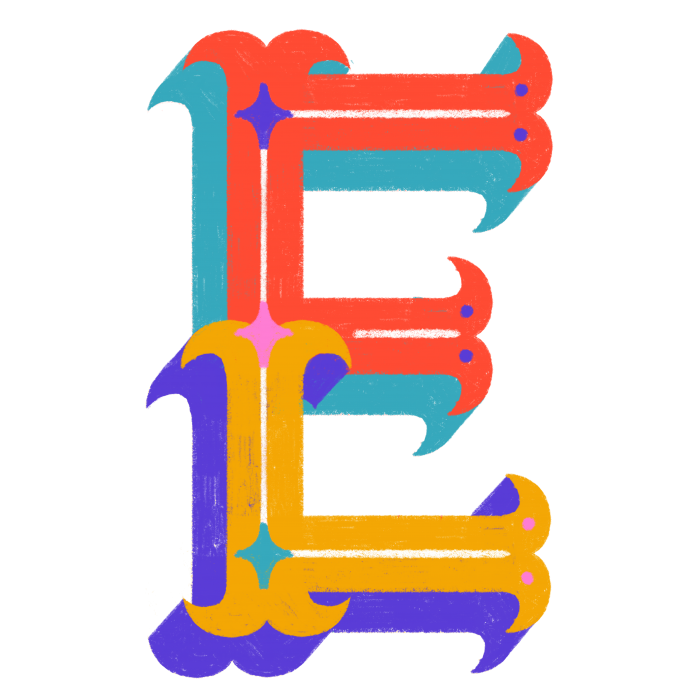
m março de 2019, a profissional de TI Daniela Andrade sentiu-se livre de uma prisão: seu próprio corpo. Antes daquela data, ela, mulher trans, se olhava nua em frente ao espelho e não se reconhecia, pois havia uma parte daquela imagem que não pertencia a quem ela é. Nascida e criada em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, a paulistana também não ficava à vontade no momento do sexo, que, como ela mesma ressalta, deve ser baseado em confiança. “Se nem você gosta de uma parte de si mesma, como será que o outro vai lidar?”, questiona. Foram anos e mais anos batalha até, finalmente, realizar seu sonho e conseguir fazer a cirurgia de transgenitalização. “Representou uma mudança completa perceber que eu não tinha mais ‘aquilo’, que, durante tanto tempo da minha vida, me fez sofrer”, lembra.
Assim que nasceu, Daniela teve uma identidade imposta devido a uma “verificação genital”, assim como acontece com as demais pessoas. O percebimento enquanto alguém que não pertence a este grupo sempre esteve presente, por isso, ela não considera que passou por uma transição de gênero. “Eu nunca mudei de um gênero para outro. Não existe na história um momento em que me percebi homem. Porém, mais nova, não existia uma palavra para o que eu vivia”, diz. Segundo ela, até hoje, a transexualidade é comentada sob a ótica da doença, do pecado, da aberração ou do cômico. Outro ponto similar entre os discursos carregados de preconceitos é relacionar automaticamente uma pessoa trans a alguém que tomou hormônios e fez cirurgia. “Muitas mulheres trans não podem fazer uso desses medicamentos por problemas de saúde, por falta de acompanhamento médico de qualidade ou porque simplesmente não querem e estão bem com o próprio corpo.”
O dia a dia marcado por violências no país que mais mata travestis e transexuais no mundo tornou a situação insustentável para Daniela. No ano passado, um mês depois de realizar a cirurgia, ela se mudou com o marido para o Canadá, pois recebeu uma oportunidade de emprego e teve receio de que isso não ocorreria novamente. Vítima de violência física no Brasil, ela pontua que essa questão sempre esteve em seus planos, assim como no de muitas outras pessoas dessa população. “Há uma diáspora de travestis e transexuais para a Europa, mas não porque elas têm dinheiro ou trabalho. Buscam outros lugares do mundo, uma vez que, aqui, a expectativa de vida para nós é de 35 anos e 90% estão se prostituindo por falta de opção”, explica.

Infância e identidade
Desde a infância, Daniela nunca se viu enquanto menino e tinha repulsa por lhe colocarem no “grupo dos garotos” na escola. O discurso machista de uma sociedade cissexista binária a aprisionou dentro de uma cadeia de gênero. “O gênero não tem nada de biológico. Nós adestramos quem nasceu com uma vagina, por exemplo, a pensar que só se realizaria se for mãe”, acrescenta. Como Daniela não aceitava essa “caixinha” preestabelecida, a inseriram automaticamente no padrão de um homem gay a partir de um estereótipo: a pessoa que anda rebolando e não gosta de futebol, mas sim, de boneca. “Eu ouvi durante muitos anos os seguintes comentários: ‘olha lá o gayzinho, o boiolinha, a fêmea’”, afirma.
Essa imposição social a fez acreditar que era homossexual por algum tempo, mas isso durou até seu primeiro estágio remunerado. À época, começou a ganhar o próprio dinheiro e a frequentar baladas da capital paulista. “Tive mais contato com amigos gays na noite paulistana e não me via como eles”. Atrelado a isso, a profissional de TI convivia com pais extremamente LGBTfóbicos e religiosos, que justificavam o preconceito dizendo que “Deus não gostava de pessoas como ela”. O descobrimento da palavra “transexualidade” foi o ímpeto para entender que aquela narrativa vivida até então não cabia para quem ela realmente é. “Eu não sabia o que era isso. Nunca nem tinha ouvido falar no termo ‘identidade de gênero’ até o começo da vida adulta”, relata.
“Enquanto você é gay, eles conseguem te esconder dos demais. Mas, ao se reivindicar como mulher trans, o corpo passa a mudar, você começa a ter seios, não aceita mais o nome de registro. Aí não tem mais como te esconderem”
Quando reivindicou sua identidade, frente a uma população ainda mais preconceituosa do que nos dias de hoje, travou uma luta enorme e adotou uma “vida dupla” por certo tempo para conseguir trabalhar. Não havia a possibilidade de batalhar por um nome social, já que não se falava a respeito. Neste momento, Daniela foi expulsa da casa dos pais. “Enquanto você é gay, eles conseguem te esconder dos demais. Mas, ao se reivindicar como mulher trans, o corpo passa a mudar, você começa a ter seios, não aceita mais o nome de registro. Aí não tem mais como te esconderem”, pontua.

A cirurgia de transgenitalização no Brasil
A realidade para uma mulher trans que quer realizar a transgenitalização (ou redesignação sexual) no Brasil é repleta de entraves. Apesar de já ter sido muito mais caro, o procedimento custa, na saúde privada, a partir de R$ 30 mil, considerando que metade da população vive com 50% do valor de um salário mínimo. No caso da comunidade trans, que não tem emprego, a única opção é o SUS (Serviço Único de Saúde). Para você ser apto a ter acesso à cirurgia, primeiro, precisa ter a “sorte” de morar em uma cidade onde exista um Ambulatório de Saúde Integral de Travestis e Transexuais. Mesmo em São Paulo, são apenas quatro unidades, distribuídas pelas regiões. Depois, a pessoa precisa ser diagnosticada por um profissional enquanto trans.
A falta de serviços públicos especializados deixa a população trans totalmente desamparada desde o início do processo de hormonização, o qual muitas mulheres e homens sentem a necessidade da realizar. “Sobretudo na adolescência, quando ocorrem muitas mudanças no corpo, você está colocando uma droga no organismo, então, é primordial um atendimento médico direcionado, incluindo um psiquiatra. O homem trans que toma testosterona não encontra informações na bula sobre os efeitos colaterais do uso contínuo do medicamento para quem nasceu com ovário e vagina. A indústria farmacêutica pensa no cisgênero porque é quem dá lucro”, evidencia.
Ao olhar a bula do seu estradiol, Daniela não lê nenhuma menção sobre o que vai acontecer em seu corpo, mas sim, sobre o corpo da mulher cisgênero na menopausa. Por sorte, ela teve acesso ao ambulatório especializado, no qual teve sua primeira consulta com psiquiatra após uma espera de dois anos.

Existe um protocolo transexualizador, estabelecido em 2008 pelo Conselho Federal de Medicina e o SUS, que determina quais são as etapas que pessoas trans precisam cumprir para entrar numa fila da cirurgia de transgenitalização. São dois anos, no mínimo, de atendimento psicológico e psiquiátrico, profissionais que serão incumbidos de dar um “parecer” dizendo se você é trans. Em seguida, há consultas com um endocrinologista, que avaliará os índices hormonais do paciente para começar a hormonoterapia. É comum, no entanto, que as pessoas já tomem hormônio de forma clandestina antes de passar em um médico, como ocorreu no caso dela. “É luxo você ter um endócrino que te acompanhe”, acrescenta.
No SUS, havia apenas uma endocrinologista para atendê-la e também acompanhar todas as pessoas trans da cidade e do estado de São Paulo. A primeira consulta é seguida de três meses sem se hormonizar com o intuito de ver como estão seus índices hormonais, para, então, fazer uma bateria de exames a cada seis meses e entender como o corpo está respondendo. Resumidamente, esta é a longa trajetória que uma mulher trans ou travesti passa para chegar até uma fila da cirurgia no SUS, com mais dezenas de centenas de indivíduos.
A transgenitalização (ou redesignação sexual) no Brasil é repleta de entraves. O procedimento custa, na saúde privada, a partir de R$ 30 mil, considerando que metade da população vive com 50% do valor de um salário mínimo
Ao contrário do que muita gente pensa, tomar hormônios e fazer tal procedimento é questão de saúde mental para as pessoas trans. No Brasil, quando alguém precisa de transplante, por exemplo, o paciente sabe exatamente em qual ponto da fila nacional está e tem uma previsão do resultado. No caso da cirurgia de transgenitalização, não existe isso: você espera e “vida que segue”. Um dia vão ligar para você e informar que chegou sua vez. Ou seja, o paciente precisa se virar para encontrar uma forma de ir até o local onde há um centro de atendimento, o que muitas vezes é fora da cidade, sendo que a renda dessa população é baixíssima.
“A forma como esta cirurgia é colocada no Brasil ocorre como se eles estivessem nos dando um presente, como se nós não fôssemos cidadãs e cidadãos brasileiros e não pagássemos impostos, e como se a saúde não fosse direito de todos e um dever do Estado. É um desprezo com a população trans. Fala-se muito das pessoas que se mataram após a operação, mas ninguém comenta das que se mataram esperando a mesma. Ninguém fica sete anos numa fila por um ‘capricho’”, critica.

Cinco anos de batalha judicial
A luta árdua e sem perspectiva pela cirurgia levou Daniela a tomar uma decisão: abrir um processo e tentar diminuir essa espera, que já durava sete anos no Sistema Único de Saúde. Seu atual marido é advogado e a primeira possibilidade pensada por ambos foi processar o SUS, mas no Brasil isso levaria o dobro de tempo até haver alguma decisão. Na ocasião, ela tinha plano de saúde, pago pelo trabalho, o que facilitou a estratégia jurídica. “Era mais fácil condenar a Unimed Paulistana do que a União”. Entre indas e vindas, foram cinco anos no total até não ter mais instâncias para o convênio recorrer.
Como a Unimed Paulistana faliu durante o processo, o advogado pediu ao juiz que mudasse a ré para a Central Nacional da Unimed. A empresa alegou em sua justificativa que se tratava de uma cirurgia estética, mas o magistrado reconheceu, em primeira instância, que era uma questão de saúde. “Chorei quando li a sentença, que dizia: ‘Imagino o quão extraordinariamente difícil seja para uma mulher transexual, dentro de uma sociedade que a discrimina em tarefas muito simples, como adentrar um banheiro público para fazer uma necessidade fisiológica. Não posso imaginar que se trate apenas de algo estético, com fins de parecer mais bonita ou feia, mas sim, de uma cirurgia terapêutica, que iria melhorar a qualidade de vida da parte. Não me resta outra alternativa a não ser condenar a Unimed a arcar com todos os custos dos procedimentos’”, lembra, emocionada. Além da transgenitalização, a defesa solicitou as cirurgias de feminilização facial e a mamoplastia de aumento.

Conforme o esperado, a Unimed recorreu da sentença para o Tribunal de Justiça de São Paulo e o processo foi julgado pelos desembargadores depois de anos. Resultado: a Turma manteve a sentença condenatória. Então, o plano de saúde levou até o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, que também respeitou a decisão inicial. Esta vitória representou o início de uma nova fase na vida de Daniela, que reconhece os privilégios que teve em relação a outras mulheres transexuais. “Quantos são os brasileiros que conhecem seus direitos à saúde? Quantas pessoas trans vão ter condições de pagar um advogado para isso ou aguentar anos com um defensor público no caso? Qualquer um está propenso a passar por uma depressão nessa batalha”, conta.
A partir desse momento, a paulistana conseguiu programar sua cirurgia e ainda escolher o cirurgião que gostaria, o Dr. Mateus Manica, pela rede particular. No SUS, isso não acontece, pois o médico que realiza o procedimento é o que tem disponibilidade naquele dia. Apesar de defender a saúde pública, ela ressalta as inúmeras falhas no atendimento e acolhimento a pessoas trans. “Já ouvi de muitas meninas que médicos disseram que não se fazia o clitóris, que é o único órgão do corpo feminino feito para dar prazer. Este discurso é, ainda por cima, machista.”
“Quantos são os brasileiros que conhecem seus direitos à saúde? Quantas pessoas trans vão ter condições de pagar um advogado para isso ou aguentar anos com um defensor público no caso? Qualquer um está propenso a passar por uma depressão nessa batalha”
Outro ponto falho no Sistema Único de Saúde, segundo a brasileira, é a falta de acompanhamento e informação sobre os efeitos colaterais da hormonização no corpo das mulheres trans e travestis. Cada caso é um caso, mas um dos impactos que Daniela sentiu ao tomar estradiol e o bloqueador de testosterona foi a perda da libido. “Isso não acontece com todas as pessoas, mas o meu desejo sexual chegou ‘no chão’. No começo era difícil, pois já estava no meu atual relacionamento, com um homem cis, e ele esperava que eu quisesse transar”, reflete.
O maior problema nem foram as alterações físicas, mas as psicológicas: lidar com esse problema e com o fato de não ter libido em uma sociedade que diz o tempo inteiro o quanto as pessoas têm que transar. “Na época, lembro de falar com a endocrinologista do Hospital das Clínicas sobre essa minha insatisfação e ela responder: ‘então está tudo bem, porque as mulheres não têm vontade de transar o tempo todo, quem têm são os homens”, conclui.

O dia da cirurgia
Depois de conhecer o cirurgião, por meio de grupos de Facebook sobre o tema, marcou a consulta e esperou pouco tempo até a operação. Os longos anos de expectativas fizeram com que a mulher trans desacreditasse que um dia seu sonho fosse realizado. Naquela data, acordou com medo. Era a realização de uma vida e não haveria qualquer possibilidade de permanecer tranquila. “Até achava que não era real. Tinha certeza que no meio de tudo acabaria a luz e seria adiada.”
A cirurgia de transgenitalização leva, em média de cinco a oito horas, e é bastante invasiva. A técnica mais comum utilizada, inclusive no SUS, é a da inversão peniana, na qual o cirurgião constrói um canal onde não havia. No procedimento, o médico remove os testículos e preserva a pele da bolsa escrotal, além de retirar grande parte do pênis, mantendo o tecido nervoso que o reveste. Normalmente, o tecido nervoso, com o da glande, é utilizado para fixar o clitóris. O médico, então faz uma incisão entre o reto e a bexiga para inserir a neovagina, onde coloca a pele do pênis e a da bolsa escrotal. Já o saco escrotal é usado para fazer grandes e pequenos lábios. O canal urinário é mantido, porém diminuído e reposicionado.
Após o procedimento, Daniela não sentiu nada de dor enquanto estava no hospital, durante uma semana, porque estava sob o efeito dos remédios na veia. Ao mesmo tempo, é colocado um molde dentro do canal na vagina para que ele permaneça aberto, pois a reação natural do corpo é tentar fechá-lo. Em até cinco dias, o objeto é retirado e, a partir de então, a mulher trans tem de começar a dilatar esse canal várias vezes ao dia. “No primeiro mês, você tem uma série intensa de dilatações, enquanto está passando também pela cicatrização. É um processo complexo”, diz.

Outro corpo, novos cuidados
A volta para a casa no pós-operatório é um momento que demanda ainda mais da atenção psicológica. É um enlutar-se de um corpo que você tinha e ser uma pessoa com outro corpo agora, com cuidados totalmente novos. Paradoxalmente, é exigido que a mulher trans tenha dois anos de acompanhamento psicológico antes da cirurgia, mas, depois dela, não há mais qualquer determinação. “Você sai e de repente tem um canal vaginal, não pode mais urinar em pé e necessita cuidar de um genital que nunca teve conhecimento.”
“A pessoa que nasceu com vagina e tem uma vulva é orientada desde nova a passar o papel higiênico da frente para trás para não desenvolver infecções. É um cuidado que você não precisa se tem um pênis”, exemplifica. “Você sabe colocar absorvente na calcinha?”, questionou uma enfermeira a Daniela. Como o canal vaginal sangra com o procedimento, as pacientes têm de usar um novo item de higiene íntima, que até então era distante de sua realidade.
De acordo com a profissional de TI, sua rotina mudou em muitos aspectos para conseguir incorporar a dilatação diariamente, o que representa uma dor psicológica e física. “Está tudo costurado: a vulva, o canal vaginal… As pessoas veem o dilatador e associam aos vibradores, mas eles não têm nada a ver”, desabafa. Deitar na cama, relaxar e dilatar: não importa seu estado emocional, Daniela passou a ter esse momento no dia a dia.
“Cada corpo é um corpo, mas a recomendação é que ocorra uma dilatação rápida, de 10 a 15 minutos, uma vez na semana. Para quem tem um parceiro com pênis, e mantiver uma vida sexual com ele, não há necessidade de dilatador”
Quando já estava morando no Canadá, a mulher trans teve um estreitamento do canal, que é uma reação natural do corpo, e precisou ir para a mesa de operação mais uma vez. Mesmo que seja comum, ela também atribui o ocorrido à quantidade de mudanças logo depois da cirurgia, pois neste período não teve o repouso necessário. Em sua nova casa, na província de Québec, não houve dificuldade para agendar uma consulta com uma médica especializada e marcar o procedimento. “Eu não tinha nem um ano de chegada e já havia passado por atendimento gratuito e de qualidade, pago pelo governo local”, afirma.
Consequentemente, os cuidados intensos do primeiro mês voltaram, como dilatar quatro vezes ao dia. Até completar um ano, é necessário incorporar isso na rotina pelo menos uma vez por dia. “Cada corpo é um corpo, mas a recomendação é que ocorra uma dilatação rápida, de 10 a 15 minutos, uma vez na semana. Para quem tem um parceiro com pênis, e mantiver uma vida sexual com ele, não há necessidade de dilatador”, acrescenta. Todo o processo, físico e doloroso, deixa suas marcas. “Eu ainda tenho de tomar analgésico e há dias em que estou exausta, tanto pela recuperação, quanto por outras questões”, reitera.

Embora os “prós” da transgenitalização sejam imensuráveis para sua autoestima e liberdade, Daniela não deixa de citar o quanto é importante ter alguém ao lado no pós-cirurgia, pois o paciente irá lidar com novas necessidades e também com o psicológico de remover partes do corpo. Em seu caso, o marido é o único próximo e que fala português. “Você vai precisar de coisas básicas, como um remédio da farmácia ou uma alimentação adequada. Para uma pessoa pobre, que consegue a transgenitalização pelo SUS e não tem amigos ou familiares, é muito mais difícil passar por essa fase”, explica.
A paulistana reconhece, mais uma vez, seus privilégios e lembra os motivos que levam muitas mulheres trans a cometerem suicídio no pós-operatório. “Será que elas tiveram acesso a um cirurgião excelente? Será que saíram da cirurgia e contaram alguém para cozinhar e cuidar delas durante algum tempo? Será que receberam apoio de alguém para comprar remédios? Nós estamos falando de quem foi expulsa de casa e discriminada a vida inteira”, finaliza.






